Como o cérebro confunde conexão digital com vínculo real — e por que isso importa para artistas e fãs na era da invasão das telas
Curadoria de 🪄Dra. Elisa Maria para +Thai Orbit
Alguma vez você já sentiu que conhecia profundamente alguém que nunca encontrou? Não um conhecido virtual, mas aquele artista, ator, cantor ou criador que, de alguma forma, parece “te entender”? Esse sentimento de familiaridade é mais comum — e mais biológico — do que imaginamos. Na era das telas onipresentes, a ciência começa a revelar que nosso cérebro não distingue completamente entre o amor vivido e o amor projetado.
A partir destas reflexões e perguntas, pedi para a IA Claude criar um artigo com o título “Invasão de Telas e Vínculos Unilaterais: Recompensa Neural, Afeto e a Construção da Subjetividade na Relação Artista-Fã na Era Digital” para aprofundar essa discussão com uma lente precisa e provocadora. O texto, que você lê de forma mais simples aqui, mostra que as relações parassociais — esses vínculos unilaterais entre fãs e artistas — ativam os mesmos circuitos dopaminérgicos que usamos em vínculos sociais reais. Ou seja: quando o cérebro “ama” um ídolo, ele o faz com a mesma química que usa para amar um amigo ou parceiro de carne e osso.
A partir desse olhar neurocientífico, é possível entender por que nos sentimos tão próximos de artistas que nunca nos viram — e também como esse afeto pode se tornar perigoso quando substitui o mundo real.
O afeto que se constrói na ausência
A dopamina, neurotransmissor responsável por prazer e motivação, é o grande motor das nossas interações sociais. Quando um bebê vê o rosto da mãe, quando um casal se encontra, quando um fã vê o novo clipe de seu artista favorito — é ela que acende os circuitos da recompensa. A novidade social, segundo estudos citados por Solié et al. (2022), é uma das principais fontes de ativação dopaminérgica: quanto mais inédito o estímulo, maior a liberação. Agora pense no scroll infinito das redes sociais, nas lives de idols, nos stories diários — tudo projetado para acionar esse mesmo mecanismo de “recompensa pela novidade”.
A Universidade de Genebra mostrou que esses picos de dopamina se tornam antecipatórios: o cérebro libera prazer antes mesmo do conteúdo chegar, apenas pela expectativa da interação. É a mesma lógica dos vícios comportamentais. E quando essa antecipação está atrelada a alguém que admiramos, a experiência se torna emocionalmente viciante.
Nosso cérebro, afinal, não sabe que aquele abraço virtual nunca vai acontecer. Ele apenas sente.
A química do vínculo: dopamina, oxitocina e a ilusão da reciprocidade
Estudos de neuroimagem funcional indicam que estímulos sociais recompensadores — como rostos, expressões ou gestos afetuosos — ativam o estriado ventral, área central do sistema de recompensa. E o cérebro reage do mesmo modo quando a recompensa vem através de uma tela. Ao assistir um vídeo pessoal, uma live ou uma entrevista de um artista com quem sentimos afinidade, há liberação de oxitocina, o hormônio da ligação. É por isso que um fã pode sentir emoção real diante de um gesto simbólico, uma dedicatória ou um olhar na câmera.
Essa conexão é genuína no nível neuroquímico — mas unilateral na experiência. As redes sociais, ao criarem interações semi-recíprocas, borram as fronteiras entre fã e amigo, entre público e intimidade. O artista fala diretamente com a câmera, e cada seguidor sente que é “para ele”. O cérebro responde como se fosse verdade.
Não se trata de fraqueza emocional, e sim de uma vulnerabilidade profundamente humana. A oxitocina e a dopamina foram moldadas para a convivência física; hoje, são sequestradas por algoritmos que imitam essa presença.
A subjetividade do fã: quando o amor ajuda a se encontrar — ou a se perder
Ser fã nunca foi apenas gostar de alguém. É, muitas vezes, descobrir quem somos através do outro. Na adolescência, essa identificação é parte natural do desenvolvimento. De acordo com Reysen & Branscombe (2010) e McCutcheon et al. (2002), o fandom pode oferecer pertencimento, valores, até exemplos de resiliência. Não é raro ouvir frases como “ele me inspirou a ser corajosa” ou “ela me ensinou que posso ser autêntica”. O problema surge quando o ideal projetado se torna a única referência de si.
A identificação com o ídolo — explica o artigo — é um espelho da autoimagem idealizada. O fã imagina o “eu que gostaria de ser” e o deposita naquele artista. Quando há equilíbrio, esse processo é saudável e até terapêutico. Mas, quando o vínculo substitui relações reais, a construção de identidade fica suspensa num lugar perigoso: o da subjetividade compartilhada sem reciprocidade.
Plataformas como TikTok, Instagram e Weverse intensificam essa dinâmica: elas criam proximidade emocional constante, mas sem real troca. O resultado? Uma geração que sente muito, mas se relaciona pouco.
Brain Rot: o cansaço invisível da mente hiperconectada
A Oxford University Press escolheu “brain rot” como a palavra do ano de 2024. Não por acaso. O termo traduz a exaustão cognitiva e emocional que vem da exposição prolongada a conteúdos digitais de baixa qualidade. É o tédio dopaminérgico: nada satisfaz, tudo estimula.
A neurociência descreve esse processo como uma “reescrita do sistema de gratificação”. Quanto mais intensa e frequente a estimulação, menor a capacidade de esperar, planejar e sustentar atenção — funções associadas ao córtex pré-frontal, a área que amadurece por último e regula impulsos. Em adolescentes e jovens adultos, esse desequilíbrio é especialmente preocupante: o cérebro ainda está aprendendo a equilibrar prazer e disciplina.
Em outras palavras: o mesmo circuito que nos conecta aos artistas também pode nos desconectar de nós mesmos.
Conexão ou substituição? O paradoxo do afeto digital
A pesquisa aponta um paradoxo fascinante: os mesmos sistemas cerebrais criados para nos unir são hoje sequestrados por tecnologias que simulam essa união. Os loops dopaminérgicos das redes sociais criam recompensas rápidas, mas esvaziam a profundidade do encontro humano. O fã acredita estar próximo do artista; o artista sente a pressão de corresponder a uma intimidade impossível. De um lado, afeto genuíno; do outro, burnout emocional.
E, no meio disso, uma pergunta ética e humana: Quando o amor deixa de ser encontro e vira consumo, o que resta da conexão?
Os próprios artistas, especialmente em contextos asiáticos e de cultura idol, enfrentam esse dilema: quanto mais acessíveis parecem, mais são vigiados. A reciprocidade esperada pelos fãs pode se tornar aprisionante. A dopamina, nesse caso, não é só prazer — é controle emocional disfarçado de carinho.
Entre dopamina e consciência: um novo modo de estar presente
Mas o texto também propõe esperança. As relações parassociais, quando equilibradas, podem gerar inspiração, sentido e pertencimento. Fãs que compartilham valores com seus ídolos encontram comunidades, amizades, e até novas formas de expressão criativa. A diferença está na consciência.
Reconhecer a natureza unilateral desse vínculo é o primeiro passo para vivê-lo com lucidez. A arte tem o poder de nos curar — mas não de substituir a vida. O desafio é aprender a consumir com presença, a seguir sem se perder.
A neurociência social mostra que o cérebro é plástico: ele se reconfigura de acordo com nossos hábitos. Se conseguimos treinar nossa mente para buscar prazer nas telas, também podemos treiná-la para voltar ao corpo, ao silêncio, ao real. Talvez o antídoto para o brain rot não seja o desligamento total, mas o reaprendizado da atenção.
E existem caminhos possíveis — estratégias que alguns pesquisadores citam em seus trabalhos — como limitar o tempo de tela e buscar atividades analógicas: colorir seu Bob Goods, fazer uma fã arte, ler um livro, praticar exercícios físicos, conversar como antigamente 😂; escolher melhor o tipo de conteúdo que consumimos (qualidade em vez de quantidade); e, principalmente, reconstruir vínculos reais — familiares, comunitários, afetivos.
Voltar a se relacionar com o mundo, com o tempo e com o outro. Não é sobre demonizar a tecnologia, mas trazer encanto, magia para o momento presente. (Às vezes tédio, dormir mesmo…).
Afinal, como lembra o artigo, a subjetividade do fã na era digital se forma nesse paradoxo: as tecnologias que nos aproximam também podem nos afastar. Depende de como — e de quem — as usamos.
📚 Referências
Aw, E. C., & Chuah, S. H. (2021). “Stop the unattainable ideal for an ordinary me!” Fostering parasocial relationships with social media influencers. Journal of Business Research.
Baym, N. K. (2013). The new shape of online community. First Monday.
Chung, S., & Cho, H. (2017). Fostering parasocial relationships with celebrities on social media. Psychology of Popular Media Culture.
Derbaix, C., & Korchia, M. (2019). Individual celebration of pop music icons. Journal of Business Research.
Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction. Psychiatry, 19(3), 215–230.*
Jenkins, H. (2012). Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. Routledge.
McCutcheon, L. E., Lange, R., & Houran, J. (2002). Conceptualization and measurement of celebrity worship. British Journal of Psychology, 93(1), 67–87.*
Oxford University Press (2024). Word of the Year 2024: Brain rot. Retrieved from Oxford Languages.
Reysen, S., & Branscombe, N. R. (2010). Fanship and fandom. Journal of Theory and Social Behaviour.
Skuse, D., & Gallagher, L. (2009). Dopaminergic–neuropeptide interactions in the social brain. Trends in Cognitive Sciences, 13(1), 27–35.*
Solié, C., et al. (2022). VTA dopamine neuron activity encodes social interaction and promotes reinforcement learning through social prediction error. Nature Neuroscience, 25, 86–97.*
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Brooks/Cole.
Wang, Z., & Aragona, B. J. (2004). Neurochemical regulation of pair bonding in male prairie voles. Physiology & Behavior, 83(2), 319–328.*
Yan, Q., & Fu, Y. (2021). Understanding social media attachment in social commerce. Information Technology & People

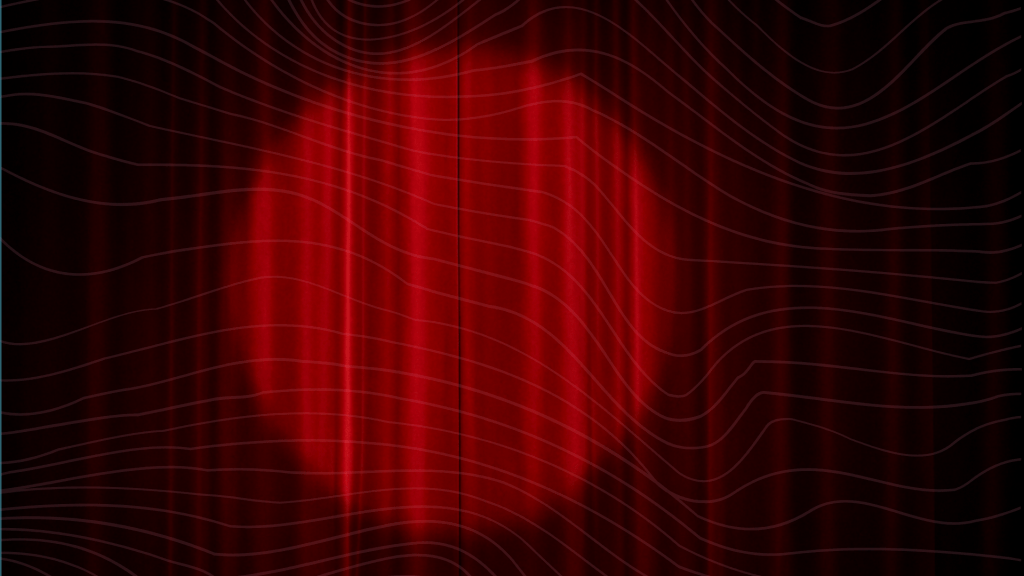






Compartilhe sua opinião!